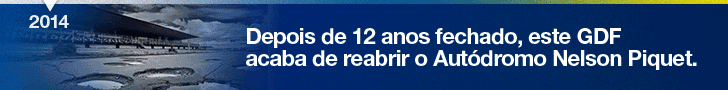O novo longa de Kleber Mendonça Filho desafia as narrativas de clímax ao focar nos resíduos da história e na política do desaparecimento no Brasil.
Assistir a O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é uma experiência de “quase apreensão”. O filme não se entrega pelo clímax ou pela economia causal típica de Hollywood; pelo contrário, ele habita o vazio, o intervalo e o resto. A obra mobiliza o que o antropólogo Rodrigo Parrini chama de “an-trapo-logia”: um saber que assume os trapos e os descartados não como sobras inúteis, mas como os elementos que revelam a verdadeira face da história.
Nesta narrativa, os resíduos deixam de ser pano de fundo para se tornarem o motor da dramaturgia. Mendonça narra como quem remenda, utilizando retalhos de vidas que já não cabem no circuito da mercadoria. É um cinema da ruína, mas de uma ruína que é condição histórica do presente latino-americano, onde o sistema descarta sujeitos e o Estado militarizado opera em um ciclo contínuo de apagamento e reciclagem da violência.
A estética da ocultação e o som da morte
O filme organiza a morte não como um evento pontual, mas como um processo contínuo e, muitas vezes, invisível. A política de visibilidade da obra é cirúrgica:
-
Corpos em Trapos: As mortes de civis, pobres, mulheres e estudantes negros são mediadas, veladas ou deslocadas para o fora de campo. Elas chegam ao espectador como rumores, fotografias ou fragmentos (como a célebre “perna cabeluda”).
-
Regime Acústico: Quando a imagem se recusa a mostrar, o som assume o papel de pensar a morte. O barulho de um tiro ou de um corpo arrastado cria uma arquitetura sonora do desaparecimento, transformando o morrer em uma vibração que insiste mesmo após o silêncio da imagem.
-
A Exceção Política: Em contraste, as mortes de agentes da repressão estatal são exibidas com brutalidade e clareza total. Ao esfacelar a carne de quem o poder costuma proteger, o filme devolve o olhar e expõe a engrenagem da violência.
O arquivo como sobrevivência e a morte do cinema
A memória em O Agente Secreto não é orgânica, mas fabricada tecnicamente. A personagem Flávia, que analisa os materiais do Ofir, torna-se uma “montadora moral” de uma vida que ela só conhece através do arquivo. A história chega ao presente como algo lido e traduzido, não vivido, reforçando a ideia de que o arquivo é o que resta quando o corpo desaparece.
O filme também reflete sobre a morte do cinema como espaço físico e social. A transformação de antigos cinemas de rua em hemocentros ou igrejas (tema já explorado em Retratos Fantasmas) simboliza a necrose de uma forma de estar no mundo. Diante da algoritmização do desejo e do isolamento promovido por plataformas de streaming, o longa de Mendonça finca o pé na resistência, defendendo o cinema como um espaço de co-presença e encontro com o tempo lento da imagem.
Os elementos que compõem o filme
| Categoria |
Descrição na Narrativa |
| Método |
Condensação de resíduos, arquivos e massas sonoras. |
| Cenário |
Recife e o Ofir: lugares de retalhos e costuras improvisadas. |
| Simbologia |
O trapo como alegoria da contra-esperança e da resistência. |
| Conclusão |
Recusa da resolução narrativa; o que pulsa é a incompletude. |
Com informações: Diplomatique


 Distrito Federal4 dias atrás
Distrito Federal4 dias atrás
 Distrito Federal1 dia atrás
Distrito Federal1 dia atrás
 Distrito Federal1 dia atrás
Distrito Federal1 dia atrás
 Brasil1 dia atrás
Brasil1 dia atrás
 Distrito Federal1 dia atrás
Distrito Federal1 dia atrás
 Distrito Federal1 dia atrás
Distrito Federal1 dia atrás
 Distrito Federal1 dia atrás
Distrito Federal1 dia atrás
 Nerd1 dia atrás
Nerd1 dia atrás